Formação do Brasil Contemporâneo: Resenha Historiográfica
- Clio Operária

- 25 de jun. de 2025
- 11 min de leitura
Por Hugo Lousada*
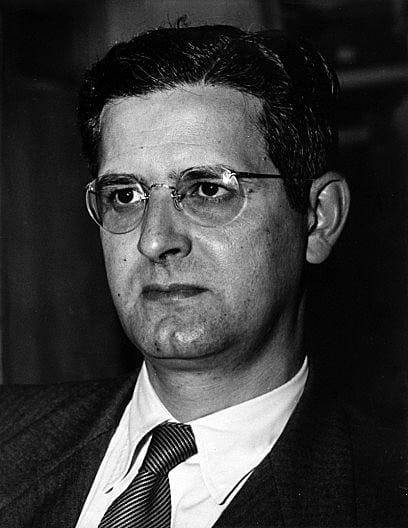
Este texto tem como objetivo fazer uma crítica histórica à questão racial apresentada por Caio Prado Jr em um de seus principais livros, “Formação do Brasil Contemporâneo”. Será considerado o panorama histórico e social anterior à publicação da obra, além de escritos que não podem ser ignorados. Não é meu intuito, e nem de minha competência, a discussão a respeito dos números apresentados no livro, que são muitos e demandaria um esforço comparativo extenso para que se fizesse um debate honesto a respeito, apesar de ser tema interessante também.
Tenho em mãos uma edição do ano de 1994, da Editora Brasiliense, cuja fundação teve como base o próprio Caio Prado Jr. Poderia falar aqui, sobre sua defasagem em vários aspectos propriamente históricos e como um de seus pilares fundamentais, o “sentido” da colonização do Brasil, foi superado teoricamente por outros autores (até mesmo seus contemporâneos, a exemplo de Charles Boxer), mas isso, por si só, já é assunto suficientemente amplo, podendo ser tema para um outro texto, de abordagem mais adequada. Assim sendo, a crítica aqui se centralizará na forma como é tratada a questão da opressão racial (tanto indígena como negra), no livro citado.
Vejamos primeiramente, algumas citações que procurarei não isolar demais, para que seja mantida a coerência, sem tirar do contexto próprio escrito pelo sociólogo. Já nas primeiras páginas, é possível ler:
Até fins do século XIV, e desde a constituição da monarquia, a história portuguesa se define pela formação de uma nova nação europeia e articula-se na evolução geral da civilização do Ocidente de que faz parte, no plano da luta que teve de sustentar, para se constituir, contra a invasão árabe que ameaçou num certo momento todo o continente e sua civilização (p. 19).
A princípio, pode-se pensar que nessa fala não há nada demais apesar dos termos pejorativos que são utilizados. Propositalmente ou não, o autor associa diretamente os termos “civilização” e “Ocidente”, enquanto por outro lado, a relação feita é entre “invasão” e “árabe”. Os mais precavidos dirão que o livro foi escrito em 1942, em um “outro tempo”, diferente do nosso, e de fato têm razão nisso, como veremos adiante.
Na página 36, Caio Prado Jr se utiliza pela primeira vez da expressão “índios não domesticados”, cujas alternativas similares, como “índio semi-civilizado” e adjetivos como “ferozes”, “hostis”, “bárbaros”, “selvagens”, percorrem seu texto de início ao fim, também para se referir aos negros. Após várias menções de que o bandeirantismo servia simplesmente para “prear índios e minérios”, o autor diz:
Não me refiro aqui à penetração das bandeiras e entradas, que embora devassassem uma área interior, extensa, não são povoadoras e não passam de expedições. Não interessam diretamente à história do povoamento (p. 71).
A violência colonial exercida durante as bandeiras e entradas, para o autor, “não passam de expedições”. Pois bem, são ínfimas as referências do autor ao processo violento que foi a colonização do Brasil. Ao longo de todo o livro, é mais fácil encontrar menções à violência sofrida pelos mineiros quando da cobrança dos impostos que, dado seu aumento, culminaria em contestações como a Revolta de Beckmann e a Guerra dos Mascates.
Segue-se, sobre os indígenas:
Acresce ainda um óbice ao desenvolvimento desta infeliz região: a hostilidade do gentio. A serra e a mata que a perlongam a pouca distância serviram de abrigo e são o último reduto dos indígenas, que não se submeteram nessa parte da colônia, ao avanço e ocupação dos brancos. Estes, num amplo movimento de tenazes, atacam simultaneamente as nações indígenas no litoral e em Minas Gerais; acossados de ambos os lados, os remanescentes, que são numerosos, se refugiam nesta área intermediária de florestas indevassadas ainda pela colonização; e assim permanecerão até o século XIX. Daí eles descerão periodicamente sobre a costa, saqueando e destruindo (p. 49).
Percebe-se, portanto, que os adjetivos pejorativos usados em relação aos povos originários e acima citados, não são um acaso: para o autor eles são, de fato, um impeditivo, um “óbice” ao “progresso”.
Em determinado ponto, o autor concorda com a tese de que as mulheres escravizadas eram vítimas sexuais de seus senhores devido a fatores como sua “lascívia” (p. 305). Lembro, inclusive, uma passagem em que os abusos sexuais sofridos pelas mulheres escravizadas eram classificados como uma mera “relação social”:
Não preciso acentuar mais uma vez o papel que a escravidão tem naquele primeiro setor, o orgânico da sociedade colonial. Mas devemos acrescentar aqui o caráter primário das relações sociais que dela resultam, e daquilo que com ela se constituiu. Primário no sentido em que não se destacam do terreno puramente material em que se formam; ausência quase completa de superestrutura, dir-se-ia para empregar uma expressão que já se vulgarizou. Realmente a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares e muito simples. O trabalho escravo nunca irá além do seu ponto de partida: o esforço físico constrangido; não educará o indivíduo, não o preparará para um plano de vida humana mais elevado. Não lhe acrescentará elementos morais; e, pelo contrário, degradá-lo-á, eliminando mesmo nele o conteúdo cultural que porventura tivesse trazido do seu estado primitivo. As relações servis são e permanecerão relações puramente materiais de trabalho e produção, e nada ou quase nada mais acrescentarão ao complexo cultural da colônia. A outra função do escravo, ou antes, da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um feito menos elementar. Não ultrapassará também o nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar para o segundo plano aquele ato que afinal lhe deu origem (p. 342).
E pra quem acha que essa é uma questão marginal no trabalho do autor, muito se engana. O próprio autor faz questão de salientar, a respeito dos temas raciais, que:
É fundada nisso, e somente nisso, que a sociedade brasileira se manteve, e a obra da colonização pôde progredir. [...] Toda sociedade organizada se funda precipuamente na regulamentação (não importa a complexidade posterior que dela resultará) dos dois instintos primários do Homem: o econômico e o sexual. Isto não vai aqui como afirmação de princípio, incabível em nosso assunto, mas servirá unicamente de fio condutor à análise que vamos empreender das relações fundamentais que se estabelecem no seio da sociedade colonial (p. 345-346).
Para a escrita da última seção do primeiro capítulo, intitulada “Raças”, por exemplo, o autor diz tomar por base os estudos pseudo-científicos de Nina Rodrigues, um dos teóricos fundamentais do pensamento eugenista brasileiro. Coloca em ação novamente os adjetivos pejorativos acerca de qualquer outra etnia que não seja a branca, hierarquizando as “raças” em questão. Enquanto o indígena é comumente associado a um ser preguiçoso e sem aptidão para o trabalho, o negro é notado como uma categoria social abaixo do branco e acima do indígena. A questão indígena, que em determinados momentos é referida pelo autor como o “problema índio”, tem seu “salvador” de forma clara nas palavras de Caio Prado Jr: o homem branco, civilizado, capaz de promover uma suposta ascensão racial aos demais povos, as “raças estranhas”, como ele se refere.
O que Portugal podia pretender, e de fato pretendeu como nação colonizadora de um território imenso para o que não lhe sobrava população suficiente, era utilizar todos os elementos disponíveis; e o índio não podia ser desprezado na consecussão de tal fim. Tratava-se portanto de incorporá-lo à comunhão luso-brasileira, arrancá-lo das selvas para fazer dele um participante integrado na vida colonial; um colono como os demais (p. 92).
Complementarmente, o autor diz:
A população indígena, em contacto com os brancos, vai sendo progressivamente eliminada e repetindo mais uma vez um fato que sempre ocorreu em todos os lugares e em todos os tempos em que se verificou a presença, uma ao lado da outra, de raças de níveis culturais muito apartados: a inferior é dominada e desaparece. E não fosse o cruzamento, praticado em larga escala entre nós e que permitiu a perpetuação do sangue indígena, este estaria fatalmente condenado à extinção total (p. 105).
A homogeneização da cultura brasileira, segundo o autor, era necessária pois assimilaria esses tantos “estranhos”, concordando com a seguinte afirmativa defendida por um autor no qual ele se baseia:
Estes povos em um paíz tão dilatado, tão abundante, tão rico, compondo-se a maior parte dos mesmos povos de gentes da pior educação, de caracter o mais libertino, como são negros, mulatos, cabras, mestiços, e outras gentes semelhantes, não sendo sujeitos mais que ao Governador e aos magistrados, sem serem primeiro separados e costumados a conhecerem mais junto, assim outros superiores que gradualmente vão dando exemplo uns aos outros da obediência e respeito, que são depositários das leis e ordem do Soberano, fica sendo impossível o governar sem sossego e sujeição a uns povos semelhantes (p. 325).
Em um suposto “impasse racial” proposto por Caio Prado Jr, ele mesmo fornece a resolução. O autor sugere que haja uma “orgia de sexualismo” (palavras do próprio autor), pois:
A mestiçagem, signo sob o qual se formou a etnia brasileira, resulta da excepcional capacidade do português em se cruzar com outras raças. É a uma tal aptidão que o Brasil deveu a sua unidade, a sua própria existência com os característicos que são os seus. Graças a ela, o número relativamente pequeno de colonos brancos que veio povoar o território pôde absorver as massas consideráveis de negros e índios que para ele afluíram ou nele já se encontravam; pôde impor seus padrões e cultura à colônia, que mais tarde, embora separada pela mãe-pátria, conservará os caracteres essenciais de sua civilização. Teria contribuído para aquela aptidão o trato imemorial que as populações ocupantes do território lusitano tiveram com raças de compleição mais escura. Essa extremidade da Europa foi sempre, desde os tempos pré-históricos, um ponto de contacto entre as raças brancas desse continente e aquelas outras cujo centro de gravidade estava na África. A invasão árabe mais tarde, senhoreando o território lusitano durante séculos; a expansão colonial do século XV que prolongou o contacto dos portugueses com os mouros, e os estabelece com as populações negras da África; tudo isto veio naturalmente favorecer a plasticidade do português em presença de raças exóticas (p. 107).
Sobre a questão negra, é dito que:
Não surgiram problemas nas suas relações [da população negra] com os colonos brancos: nos dois séculos e meio que decorrem da introdução dos primeiros africanos até o momento que ora nos ocupa [século XVIII], a sua situação foi sempre a mesma (p. 106).
Além disso, em outro trecho o autor faz questão de enaltecer a branquitude novamente:
O paralelismo das escalas cromáticas e social faz do branco e da pureza de raça um ideal que exerce importante função na evolução étnica brasileira; ao lado das circunstâncias assinaladas mais acima [sobre a mestiçagem entre negros, indígenas e brancos], ele tem um grande papel na orientação do cruzamentos, reforçando a posição preponderante e o prestígio de procriador do branco. Dirige assim a seleção sexual no sentido do branqueamento (p. 110).
É bem verdade que, apesar de qualificar brancos, indígenas e negros como em uma pirâmide social, o autor recusa a biologização:
A classificação étnica do indivíduo se faz no Brasil muito mais pela sua posição social; e a raça, pelo menos nas classes superiores, é mais função daquela posição que dos caracteres somáticos.
Ainda assim, é perceptível a problemática acerca da leitura feita pelo autor a respeito da cultura e história dos povos negros e escravizados. Refere-se à Revolução Haitiana, por exemplo, como “colapso de São Domingos em 1792”. Aos camaradas que prontamente já saem em defesa do autor, muitas das vezes dizendo que Caio Prado Jr é “fruto do seu tempo” e alegando o histórico crime de anacronismo, tenho alguns dados interessantes sobre isso.
Quando da escrita da primeira edição desse livro, em 1942, já haviam sido desenvolvidos alguns estudos de C. L. R. James, entre eles sua obra máxima: Os Jacobinos Negros, em 1938.
Ainda nos idos dos 1920, havia sido criada a Escola dos Annales, fundamental no processo de releitura, atualização e desenvolvimento científico da historiografia. Em 1940 Walter Benjamin já havia celebremente notado que:
Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo. (Conferir em: https://www.marxists.org/portugues/benjamin/1940/mes/90.htm).
Contudo, o autor parece se prender numa leitura historiográfica pautada pelo etapismo sociológico, um certo positivismo historicista ao estilo de Ranke, como se vê na justificativa de que havia pouca documentação oficial para ser consultada sobre a administração da colônia brasileira (conferir no capítulo “Administração”).
No Brasil, discussões a respeito da questão negra já haviam sido amplamente desenvolvidas por Joaquim Nabuco, Machado de Assis, Martinho Prado Júnior (seu avô), Antônio Prado (seu tio-avô), José do Patrocínio, entre muitos outros. Castro Alves, ainda nesse período, já tinha seus escritos divulgados. Nas primeiras duas décadas do século XX, Manuel Querino já havia desenvolvido a maioria de seus escritos sobre a cultura negra brasileira.
Alguns bons anos antes da primeira publicação do livro de Caio Prado Jr, W. E. B. Du Bois já havia desenvolvido parte de sua crítica ao racismo e ao colonialismo (conferir mais informações em: https://www.cliooperaria.com/post/socialismo-e-democracia-no-pensamento-de-w-e-b-du-bois). Além disso, já haviam se passado quase 100 anos da publicação de “A Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave”, escrito pelo abolicionista Frederick Douglass (mais informações sobre o autor em: https://www.cliooperaria.com/post/como-frederick-douglass-usou-a-leitura-para-fugir-da-escravid%C3%A3o-e-o-que-sua-hist%C3%B3ria-nos-ensina-hoj).
Na transição do século XIX para o século XX, gigantes campanhas abolicionistas foram vistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, último país a abolir a escravidão, somente em 1888. Nessa época, grandes levantes revolucionários vieram à tona. Lênin já havia escrito ostensivamente a respeito da questão campesina-agrária e sua relação com o trabalho servil na Rússia (conferir em marxists.org).
Acerca da questão colonial, que contava já com grandes contribuições de Rosa Luxemburgo e do próprio Lênin, é interessante notar que em 1942 a Segunda Guerra Mundial (leia-se mundial-colonial) estava em vigor. Mariátegui e José Martí já tinham desenvolvido importantes teses sobre a questão indígena nesse período.
Pode-se dizer, contudo, que pelo fato de a história não seguir, necessariamente, um rumo qualitativamente ascendente, é possível que o “tempo histórico” específico em que viveu Caio Prado Jr não tenha se embricado em tais discussões que em tempos anteriores a historiografia havia se interessado. Porém isso não seria verdade.
Levemos em consideração que o autor nasceu no ano de 1907 e faleceu no ano de 1990. Autores com teses muito mais avançadas e arrojadas foram contemporâneos a ele, temos no Brasil os exemplos de Clovis Moura (1925-2003), Lélia Gonzalez (1935-1994), Florestan Fernandes (1920-1995), Abdias do Nascimento (1914-2011), Eunice Paiva (1929-2018), Egon Schaden (1913-1991). Em outros países, é possível citar: Frantz Fanon (1925-1961), os já citados W. E. B. Du Bois (1868-1963) e C. L. R. James (1901-1989), Malcolm X (1925-1965), Martin Luther King Jr (1929-1968), entre inúmeros outros.
Poderiam ser citadas mais e mais passagens do livro de Caio Prado Jr que atestem o racismo enraizado e construído em suas teorizações, mas para não me alongar demais, mantenho apenas as já citadas ao longo do texto.
Esse é o “tempo” de Caio Prado Jr. E não há anacronismo algum em criticá-lo quanto à sua abordagem acerca da questão racial, pois toda a estrutura apresentada no livro recorre a pressupostos raciais já decadentes e ultrapassados para a sua própria época, como foi possível constatar.
Aqui, a conclusão é a mesma a que chega Florestan Fernandes:
Para o sociólogo, não existe neutralidade possível: o intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores ou com os explorados.
Nós sabemos qual o compromisso em questão.
*Hugo Lousada é graduado em História pelo Centro Universitário Barão de Mauá, com pesquisa sobre a Revolução Russa, intitulada "Xadrez Russo: diálogos entre educação e revolução (1917-1924)". Atualmente mestrando pelo Programa de Pós Graduação em Educação da UFSCar, pesquisa a relação entre o cinema cubano e a formação da nova sociedade socialista em Cuba.


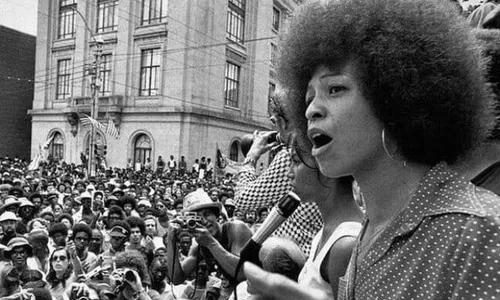
Comentários