Transgênicos no Brasil: A promessa da ciência e o entrave do uso
- Professor Poiato
- 6 de out. de 2025
- 5 min de leitura
Por William Poiato
No coração da floresta amazônica, onde o tempo parece medido pelo ritmo das cheias e vazantes dos rios, um campo de soja se estende como um manto verde e uniforme. Não é uma planta qualquer. É uma criação da biotecnologia: resistente ao herbicida glifosato, projetada para maximizar a produtividade, alinhada com a lógica de um sistema que mede o sucesso em toneladas por hectare. À primeira vista, é um triunfo das forças produtivas — o conjunto de conhecimentos, máquinas, técnicas e habilidades que a humanidade desenvolveu para dominar a natureza e alimentar suas cidades. Mas, ao redor desse campo, vozes se levantam: de cientistas que exigem mais estudos, de povos tradicionais que temem a contaminação de suas sementes crioulas, de consumidores que não sabem o que estão comendo. O que esse cenário revela não é apenas um avanço tecnológico, mas um conflito estrutural entre o que é possível produzir e como esse potencial é usado.
Essa tensão é o cerne de uma das mais profundas análises do pensamento social: a distinção entre forças produtivas e relações de produção. As forças produtivas — como a engenharia genética, os laboratórios de ponta, os dados moleculares e os sistemas de rastreamento — estão em plena expansão. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de soja transgênica do mundo, com milhões de hectares cultivados, uma infraestrutura logística complexa e um aparato científico que rivaliza com os centros globais de inovação. Tecnologicamente, o potencial é imenso. Mas as relações de produção — as estruturas de poder que definem quem controla os meios de produção, quem decide o que será plantado, quem se beneficia do lucro — seguem moldadas por um modelo concentrador, dependente de grandes corporações biotecnológicas e voltado para a exportação.
Nesse contexto, a tecnologia não é neutra. Ela não simplesmente “avança” em direção ao progresso; é moldada por interesses econômicos que determinam seu uso. É aqui que emerge uma ideia crucial: o verdadeiro entrave não está no desenvolvimento das forças produtivas, mas em seu uso. Como argumenta uma leitura crítica do materialismo histórico, as revoluções sociais não ocorrem necessariamente quando a tecnologia estagna, mas quando a sociedade percebe que seu potencial produtivo está sendo subutilizado ou desviado de fins coletivos. No caso dos transgênicos, a ciência já produziu sementes que poderiam, em tese, ser usadas para fortalecer a segurança alimentar local, reduzir o uso de agrotóxicos ou promover sistemas agrícolas mais resilientes. No entanto, o modelo dominante prioriza a produção em larga escala, a padronização e a dependência de insumos patenteados — um uso que beneficia poucos e coloca em risco muitos.
A superestrutura — o conjunto de leis, instituições, discursos e normas que se erguem sobre essa base econômica — reflete essa contradição. A Lei de Biossegurança de 2005, por exemplo, foi concebida como um marco regulatório equilibrado, incorporando o princípio da precaução e a obrigatoriedade da rotulagem. Mas, na prática, sua aplicação é marcada por ambiguidades. A exigência de estudos de impacto ambiental é discricionária. A fiscalização da rotulagem, feita pela ANVISA, é deficiente. O símbolo amarelo com a letra “T” está nos rótulos, mas muitas vezes mal visível, em embalagens complexas, sem informação clara sobre a origem ou os riscos. A superestrutura, nesse caso, não serve para proteger a sociedade, mas para legitimar um sistema de produção que já está em andamento.
Essa desconexão entre o que é tecnicamente possível e o que é socialmente desejável manifesta-se também no debate sobre a segurança dos alimentos. O conceito de equivalência substancial — que compara um alimento transgênico ao seu equivalente convencional — tem sido a chave para a rápida liberação de novas variedades. Mas esse critério, embora útil, pode ocultar efeitos não intencionais: alterações metabólicas, produção de proteínas inesperadas, mudanças na expressão gênica. Estudos com animais indicam alterações em órgãos como fígado e testículos após o consumo prolongado de soja modificada. Um caso emblemático foi o de uma soja desenvolvida com um gene da castanha-do-Brasil: descobriu-se que a proteína resultante era altamente alergênica, e o projeto foi abandonado. A ciência, aqui, mostrou-se capaz de detectar riscos — mas também revelou que o processo de avaliação muitas vezes antecede a compreensão completa das consequências.
No meio ambiente, os efeitos são ainda mais complexos. A transferência de genes modificados para plantas selvagens — a chamada poluição genética — já foi documentada em diversas espécies. O pólen de milho Bt, projetado para matar pragas, demonstrou causar mortalidade em borboletas-monarca, um inseto-chave na cadeia alimentar. A resistência de insetos a toxinas genéticas e o surgimento de superplantas daninhas resistentes a herbicidas são sinais de que o ecossistema está reagindo de formas imprevisíveis. E no Amazonas, onde a biodiversidade é o alicerce de modos de vida milenares, o risco de contaminação genética de cultivos tradicionais é uma ameaça direta à autonomia alimentar e ao conhecimento ancestral.
Tudo isso ocorre enquanto a sociedade se divide. De um lado, cientistas e empresas argumentam que, após décadas de uso, não há evidências concretas de danos à saúde ou ao meio ambiente. Do outro, movimentos sociais, ONGs e setores do campo científico exigem mais transparência, mais pesquisas independentes e maior participação pública nas decisões. Uma pesquisa do Pew Research Center mostra bem essa fissura: 88% dos cientistas consideram os transgênicos seguros, mas 57% da população vê riscos. Essa desconexão não é apenas técnica — é política. É a expressão de um sistema em que as decisões sobre o uso da tecnologia são tomadas longe do alcance da maioria.
A questão, então, não é simplesmente se os transgênicos são bons ou maus. É perguntar para quem eles servem. A tecnologia está aí. As forças produtivas alcançaram um nível de sofisticação que permitiria, em tese, um uso mais racional, sustentável e democrático. Mas as relações de produção atuais impedem esse uso pleno. O pequeno agricultor não pode guardar sementes. O consumidor não pode escolher com clareza. O pesquisador público enfrenta barreiras regulatórias que favorecem grandes corporações. A superestrutura jurídica e institucional, em vez de corrigir essas distorções, muitas vezes as reproduz.
E se a revolução não vier do colapso da tecnologia, mas da consciência de seu desperdício? Se o estopim não for a falência do sistema, mas a percepção de que estamos usando a ciência para repetir os mesmos erros — concentração, dependência, degradação ambiental — enquanto alternativas mais justas e sustentáveis são ignoradas? A agrodiversidade, por exemplo, já mostrou, em experimentos com arroz, que a mistura de variedades reduz doenças em 94% e aumenta a produtividade sem agrotóxicos. É outra forma de usar o conhecimento, não para dominar a natureza, mas para dialogar com ela.
No final das contas, o campo de soja no Amazonas não é apenas um símbolo da modernidade agrícola. É um espelho. Reflete o que somos capazes de criar — e o que escolhemos fazer com isso. As forças produtivas estão prontas para um salto. Falta, ainda, uma mudança nas relações de produção. Falta um novo contrato entre ciência, sociedade e natureza. Porque o verdadeiro progresso não está em produzir mais, mas em usar melhor. E talvez, nesse uso mais consciente, esteja a semente de um futuro que ainda pode ser cultivado.
Referências:
COHEN, Gerald A. Forças produtivas e relações de produção. Crítica Marxista, Campinas, SP, v. 17, n. 31, p. 63–82, 2010. DOI: 10.53000/cma.v17i31.19395.
COSTA, Thadeu Estevam Moreira Maramaldo et al. Avaliação de risco dos organismos geneticamente modificados. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, p. 327-336, 2011.
DA SILVA SOUZA, VALCILENE; POZZETTI, VALMIR CÉSAR; SANTOS DE SOUZA, JANE CLEA. IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIOCULTURAIS APÓS OS PLANTIOS DE ESPÉCIES GENETICAMENTE MODIFICADAS NO AMAZONAS. Revista Percurso, v. 2, n. 50, 2025.
NODARI, Rubens Onofre; GUERRA, Miguel Pedro. Implicações dos transgênicos na sustentabilidade ambiental e agrícola. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 7, p. 481-491, 200
ULTCHAK, Alessandra Alvissus de Melo Salles. Organismos geneticamente modificados: a legalização no Brasil e o desenvolvimento sustentável. INTERthesis, Revista Internacional Interdisciplinar, v. 15, n. 2, p. 125-142, 2018.



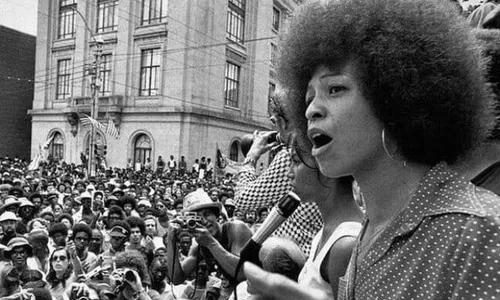
Comentários