Para salvar os domingos
- Vinicius Souza Fernandes da Silva

- 14 de ago. de 2025
- 6 min de leitura
Por Vinicius Souza Fernandes da Silva*

Em agosto de 2024, a talentosíssima artista brasileira Liniker lançou o poderoso Caju, seu segundo álbum de estúdio. O disco apresentado em show dentro de uma proposta em que a performance o relacionasse com a celebração da sua trajetória na música, tem diversos tons diferentes nas suas diferentes faixas. Do devir por um amor épico e íntimo que batiza o lançamento até musicalidades ritmadas em formas dançantes como “negona dos olhos terríveis”, diversos aspectos da vida, relações e sentimentos são explorados. Uma música, no entanto, com um título que chama atenção a mais do que se propõe - “me ajuda a salvar os domingos” -, explora a relação doméstica, profunda e bonita entre um casal passando tempo juntos, de forma que os pequenos pontos do dia são ressignificados. O amor afetivo-sexual, de fato, é mestre em salvar os domingos. Mas sempre que me deparo com este título não consigo não me lembrar dos domingos que não precisavam ser salvos porque eles já estavam comprometidos com a realização coletivas da felicidade.
Como muitos brasileiros e brasileiras, eu venho de um lugar no qual a vida dificilmente se restringe a um âmbito individual, onde se isolar do que é público não é a norma. Indo além, um lugar no qual a construção de um espaço público de realização, ajuda mútua, celebração, mas também conflitos, desavenças e violência são comuns. O que quero dizer é que, com uma história semelhante ao de milhões de outras pessoas, eu venho de uma periferia. Um bairro no qual a vida é tão precária quanto a nossa habilidade de tirar água de pedra e conceber felicidade genuína na partilha da tarefa de guerra que é sobreviver na 6ª maior cidade do mundo e a maior metrópole da América Latina. Eu sou mais um homem negro, mais um jovem da periferia de São Paulo. Nasci e morei por mais de duas décadas em mais de um bairro do extremo-leste, experiência bela e esmagadora que é viver na conhecida selva de pedra, até que quando tive condições materiais que viabilizaram experienciar outros espaços urbanos.
Como uma criança do fim dos anos 90, toda a minha vida, desde a primeira memória, foi um testemunho das mudanças profundas que a sociedade brasileira viveu com o fim da era FHC e o decorrer dos dois conhecidos e celebrados mandatos do primeiro presidente operário da história nacional. Enquanto homens e mulheres de profunda coragem e dedicação enfrentaram a difícil missão de, através da sociedade civil organizada, lutar para que o primeiro governo progressista do Brasil pós redemocratização se concretizar em uma oportunidade histórica de avançar no cumprimento de diversos direitos sociais do povo brasileiro, o nosso povo, eu era uma criança. Algumas dessas pessoas se tornaram meus companheiros e companheiras de luta depois de adulto, pessoas com as quais tenho a alegria de sempre aprender, me motivar e descobrir que a esperança não é uma escolha, mas uma tarefa histórica, uma necessidade. Minha mãe e meu tio, estão entre essas pessoas que lutaram. Militantes do movimento social de moradia, ocuparam, reivindicaram, lutaram e conquistaram. Graças a política dos mutirões de moradia de Luiza Erundina, uma das poucas vezes que a prefeitura de São Paulo foi dirigida por uma pessoa de esquerda e, pela primeira vez, por uma mulher nordestina, uma ocupação em um terreno leiloado e sem função social se converteu na casa onde eu nasci e cresci no extremo-leste.
Eu me lembro de cada detalhe, de cada cor, de cada falha na pintura, nos prédios que ergueram as nossas moradias. Me lembro da praça central onde eu corria e brincava, dos corredores com os apartamentos, dos meus amigos, da namoradinha que fiz quando ainda era só uma criança, da mulher que cuidava de mim para minha mãe trabalhar. Eu me lembro do rosto e da voz da agente de saúde que acompanhava nossa família, que já sabia meu nome, todas as minhas informações médicas, que me fazia feliz quando nos visitava. Eu me lembro dos vínculos. Assim como também me lembro do espaço perigoso dentro do mutirão onde haviam execuções, me lembro dos primeiros barulhos de tiros que ouvi na vida, das perseguições que testemunhei. Me lembro de várias dificuldades e violências e outras não me lembro porque minha mente não me permite. Viver era sobreviver e, mesmo com uma infinidade de problemas, a felicidade era genuinamente construída. Ir nos fins de semana na casa dos parentes que moravam mais perto ou recebê-los, era regra. Passar as férias nas casas de tios e tias, com primos e primas reunidas, era parte fundamental. E os domingos, todos eles, já estavam comprometidos com almoços coletivos, churrascos, karaokês, muita cerveja e comida. A regra era a comunhão, mesmo com brigas, diferenças e inúmeras dificuldades que eram enfrentadas de segunda a sábado, mas o domingo estava salvo.
Eu venho de uma família camponesa que passou décadas migrando entre o sudeste e o centro-oeste do país, avós camponeses, bisavô judeu que fugiu do antissemitismo na Europa acreditando em uma promessa falida de vida abundante no interior de Minas Gerais, bisavó indígena, uma das poucas sobreviventes de seu povo, felicitaram este mundo com a minha avó, quem não conheci, mas sobre quem aprendi muito com minha mãe. Por parte do meu avô, conheço pouca história, pois através dele foi onde somos herdeiros de africanos escravizados. Uma migração atrás da outra, essas pessoas foram parar no extremo-leste da cidade de São Paulo, assim como meu bisavô, vítimas de uma promessa falida. Mas trouxeram consigo muita dor e muito sonho, esperança e disposição pela vida, além de toda a coletividade vivida no campo brasileiro. Uma família tão católica quanto praticante das religiões e espiritualidades de matriz africana, como são as famílias brasileiras. A coletividade é parte de como comungamos a vida. E domingos de churrasco, cerveja, samba, muita dança, muita risada e também muitos conflitos é a agenda irrevogável de quem vive a vida por essa lógica epistêmica.
A cultura afro-brasileira nos presenteou com muitas coisas que resistiram aos séculos de Brasil, mas com certeza a mais sagrada é a coletividade. Bater uma laje com os vizinhos e depois fazer uma baita churrasco. Socorrer algum parente deste e de outros vizinhos na hora de uma emergência que precisa de um carro. Se juntar para pintar uma casa, mexer em um motor. Ou só ficar sentado na calçada, dando risada, fumando um cigarro e contando história, vendo que o dia passa, o céu muda e as transformações naturais da paisagem lembram de entrar para tomar banho e jantar. Os churrascos nos quintais, as crianças que conhecem todos da rua e que são cuidadas e prezadas pelo coletivo. Tocar a campainha de alguém na noite de ano novo só para desejar felicidade, levar um prato de churrasco ao seu vizinho quando a sua casa está em festa e, por alguma razão, a dele não. São exemplos que eu testemunhei da nossa identidade histórica afro-brasileira, coletiva, nos bairros periféricos onde, por vezes, todo quintal vira um terreiro aos domingos e, enquanto todos os nossos santos e deuses dançam, ninguém fica sem comer.
O churrasco, o samba e a suspensão de todos os problemas por algumas horas. Era assim que os domingos já estavam salvos. Com parentes, vizinhos, amigos e em um espaço de realização coletiva que eu jamais encontrei fora das periferias, onde a qualidade de vida se manifesta de várias formas diferentes, mas não no sentido coletivo do espaço e da vida. Para usar a frase do rapper Paulista Rô Rosa “coisa de cria”. Em meio a violência, a resposta histórica é a sobrevivência coletiva e nossos domingos, onde tiramos licença das mortes, do perigo, da violência, da labuta do trabalho e dos estudos, e nos damos o direito à felicidade vivida em conjunto. Não por acaso, ainda hoje, quando busco o gosto dessa forma de experienciar a alegria, eu encontro ao comungar com aqueles que, em um caminho parecido com o meu, vieram de lugares parecidos com aqueles de onde eu vim no extremo-leste de São Paulo. Mesmo longe de casa, por hora, eu encontro essa mesma felicidade que só quem é sabe, quando vou na feijoada da Paula, que veio de uma periferia como a minha, que cozinha panelas de diferentes ingredientes, em um esforço que jamais é medido por uma pessoa que cozinha pelo prazer de realizar a refeição em coletividade, que sabe que apesar da comida impecável, ela fica ainda melhor quando aproveitada em conjunto, quando sentamos em iguais, comemos, bebemos, celebramos arte e música e dedicamos parte desse tempo restrito de existência física e estarmos juntos. Essa é uma prática ancestral, histórica de como nos celebramos e nos cuidamos desde que o primeiro de nós foi forçado a vir para o que hoje é esse país. E é a mesma sensação de quando em alguns domingos me dirijo a periferia para celebrar churrasco, cerveja e música. Momento no qual deixo a cidade fria da especulação e vou em busca de algo que lembra casa.
Esse texto talvez seja um relato de uma experiência social que, muito mais do que demonstrar uma perspectiva individual, é sobre a beleza da nossa cultura e nossa identidade histórica herdada dos nossos ancestrais que resistiram ao escravismo e mantiveram o futuro vivo. Que possamos hoje lutar pelas nossas vidas, pelo futuro e, claro, para que os domingos estejam todos salvos.
*Vinicius Souza Fernandes da Silva é historiador, cientista social, especialista em Direitos Humanos e Lutas Sociais. Editor e coordenador do Conselho Editorial da Clio Operária e associado ao Instituto Hauçá, estuda e escreve sobre os temas da filosofia política e o papel da violência no desenvolvimento histórico do Brasil. Tradutor e curador do livro “Há uma Revolução Mundial em andamento: discursos de Malcolm X” (LavraPalavra Editorial).
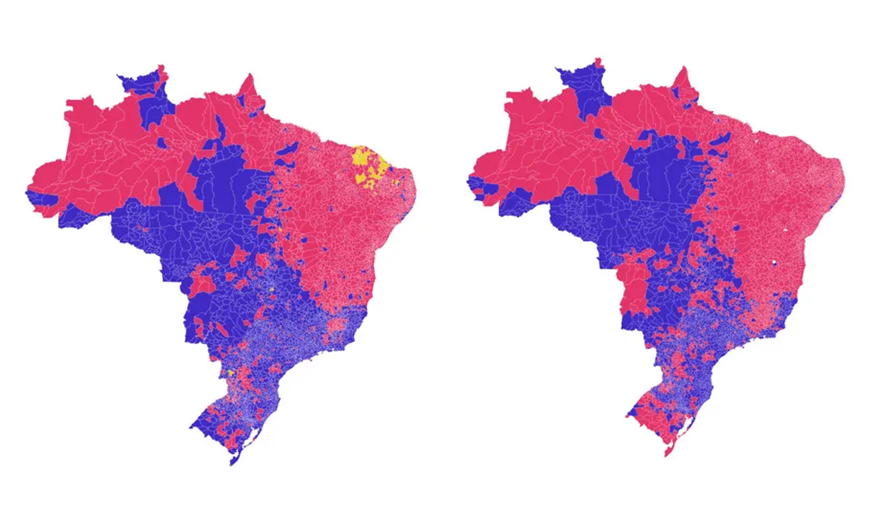


Comentários