Frederick Douglass: um intelectual orgânico afro-americano
- Clio Operária

- 25 de ago. de 2025
- 11 min de leitura
Por João Damaceno de Almeida Neto

Quando falamos de Antonio Gramsci (1891–1937), muitas ideias e conceitos vêm à mente do ouvinte, em especial a ideia ou o conceito de “intelectual orgânico”. Como salienta Voza (2017, p. 817), entre as noções do léxico gramsciano, a de intelectual orgânico foi a mais sujeita a simplificações, reduções e equívocos interpretativos. Isso pode ser constatado no artigo intitulado Antigramscismo na América Latina: Circulação e tradução de ideias (2022), no qual os autores demonstram a recepção das ideias de Gramsci por intelectuais reacionários e conservadores, que as manipulam à sua maneira, sem qualquer referência ao texto original.
De maneira geral, diferentemente da concepção coloquial sobre quem são os intelectuais, Gramsci (2001) entende que todos os homens são intelectuais, ainda que não exerçam funções intelectuais na sociedade. Isso porque todos são dotados de capacidades intelectivas, que exercem tanto na elaboração de suas concepções de mundo quanto na realização das mais diversas ações concretas na divisão social do trabalho.
Na verdade, o operário ou proletário, por exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por esse trabalho em determinadas condições e em determinadas relações sociais (sem falar no fato de que não existe trabalho puramente físico, e de que mesmo a expressão de Taylor, do "gorila amestrado", é uma metáfora para indicar um limite numa certa direção: em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora) (Gramsci, 2001, p. 18).
Nesse ínterim, ao versar sobre a categoria de intelectual orgânico, Gramsci (2001) entende que não se deve pensar o papel dos intelectuais a partir de uma perspectiva sociológica, mas sim a partir de uma análise na perspectiva histórico-cultural e de história da ciência política, que insere tal pensador em sua formação social, em seu desenvolvimento histórico e nas formas políticas que esse pensamento incide na dinâmica das classes em luta.
Logo, ao analisar a categoria de intelectual orgânico, Gramsci não se limita a identificar somente aqueles que exercem funções intelectivas formais, como filósofos e cientistas, dados ao cultivo das belas-letras, mas sim, de forma ampliada, todo aquele que lê, pensa o mundo e exerce função diretiva na organização da sociedade. Nesse sentido, segundo Voza (2017), no decorrer de sua análise sobre a história dos intelectuais, Gramsci (2001) estabelece uma distinção entre os intelectuais como categoria orgânica de todo grupo social e intelectuais como categoria tradicional.
Assim, os intelectuais tradicionais seriam aquele grupo social que emerge na história como expressão da estrutura econômica anterior, encontrando categorias intelectuais pré-existentes que representam uma continuidade histórica não interrompida pelas modificações sociais e políticas. Esses intelectuais tendem a reproduzir o status quo, ao defenderem a manutenção da classe social dominante (Gramsci, 2001, p. 16). Nesse sentido, Gramsci entende que a representação mais característica dessa categoria de intelectuais tradicionais se constitui na figura dos eclesiásticos.
A mais típica dessas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase histórica, que é parcialmente caracterizada, aliás, por esse monopólio) alguns serviços importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, com a escola, a instrução, a moral, a justiça, a beneficência, a assistência etc. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária: era juridicamente equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício da propriedade feudal da terra e o uso dos privilégios estatais ligados à propriedade (Gramsci, 2001, p. 16).
Dessa forma, Gramsci ressalta que um dos desdobramentos da monopolização de serviços importantes pelos intelectuais tradicionais, presentes nas mais distintas instâncias da formação social, é a construção de uma falsa imagem e percepção de si mesmos como uma categoria autônoma e independente do grupo social dominante.
Essa autoposição não deixa de ter consequências de grande importância no campo ideológico e político (toda a filosofia idealista pode ser facilmente relacionada com essa posição assumida pelo conjunto social dos intelectuais e pode ser definida como a expressão dessa utopia social segundo a qual os intelectuais acreditam ser “independentes”, autônomos, dotados de características próprias etc.) (Gramsci, 2001, p. 17).
Por outro lado, ao abordar a categoria de intelectual orgânico, Gramsci (2001) salienta que esse tipo de intelectual nasce no seio de uma classe, de uma fração de classe ou é recrutado por ela. Assim, o intelectual orgânico não é necessariamente aquele que se constitui a partir de um processo formal de letramento, mas sim por meio da articulação de uma consciência crítica, que expressa os interesses da respectiva classe social em luta e age de acordo com esses interesses em uma direção determinada. Trata-se, portanto, de um indivíduo com certa capacidade de aglutinação, que exerce funções diretivas, organizativas e educativas no aparelho privado de hegemonia, ao organizar as massas em seus embates e reivindicações na sociedade.
Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político (Gramsci, 2001, p. 15).
Nesse sentido, Gramsci parte da análise dialética das relações concretas para compreender o abstrato, identificando como um componente influencia o outro. Assim, o intelectual orgânico seria responsável pelo desenvolvimento da ação transformadora, isto é, pela elaboração de uma crítica à concepção vigente na realidade, levando os indivíduos a perceberem as contradições dessa relação. Neste ponto, ao refletir sobre a distinção entre os intelectuais como categoria orgânica e como categoria tradicional, Gramsci entende que a questão do moderno partido político, enquanto tipo de associação, constitui-se como uma chave de leitura desse processo.
O que se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais? É necessário fazer algumas distinções: 1) para alguns grupos sociais, o partido político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos, que se formam assim, e não podem deixar de formar-se, dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de desenvolvimento do grupo social dado, diretamente no campo político e filosófico, e não no campo da técnica produtiva (no campo da técnica produtiva, formam-se os estratos que correspondem, pode-se dizer, aos cabos e sargentos no exército, isto é, os operários qualificados e especializados na cidade e, de modo mais complexo, os parceiros e colonos no campo, pois o parceiro e o colono correspondem geralmente ao tipo artesão, que é o operário qualificado de uma economia medieval); 2) o partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; e esta função é desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como "econômico", até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política (Gramsci, 2001, p. 24).
O que, por seu turno, pode ser aferido ao tomar a categoria de intelectual orgânico como categoria analítica para pensar a figura singular de Frederick Douglass e sua atuação na luta dos afro-americanos pela reivindicação de seus direitos, a partir de três indícios fundamentais: (1) ao se posicionar como articulador dos ex-escravizados, promovendo espaços de escuta, formação e resistência; (2) na construção de uma plataforma política abolicionista, por meio de sua produção escrita, discursos públicos e atuação institucional; e (3) ao dirigir, organizar e mobilizar seus companheiros, assumindo funções diretivas e educativas no interior do aparelho privado de hegemonia, como nos jornais que fundou e nas igrejas em que atuou como liderança.
Ao longo do século XIX, os Estados Unidos passaram por um intenso processo de transformação. Segundo Izecksohn (2022), entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, nenhuma outra sociedade testemunhou mudanças tão rápidas em um intervalo de tempo tão limitado. Essa sociedade, marcada pelo avanço tecnológico e pelo desenvolvimento de suas capacidades econômicas, demográficas e democráticas, manteve os negros, mesmo após a emancipação com a ratificação da 13ª Emenda Constitucional, em uma espécie de não lugar.
Os negros eram livres, mas o acesso a outros direitos, como o de votar, de participar em júris, de testemunhar contra brancos, de negociar livremente seus contratos de trabalho, não tinha sido garantido. O status de cerca de quase 4 milhões de ex-escravos permanecia indefinido. Após uma reação inicial de contentamento e comemoração, eles perceberam que sua dependência em relação aos antigos senhores persistia e temiam pela perda da precária liberdade de que dispunham. Muitos se sentiam traídos pelas promessas do governo federal, de cuja consistência duvidavam com cada vez mais intensidade (Izecksohn, 2022, p. 133).
Logo, é nesse contexto — em que o status de cerca de 4 milhões de ex-escravizados permanecia indefinido — que Frederick Douglass se posiciona como intelectual e articulador dos interesses dos egressos da escravidão.

Reconhecido como um dos maiores oradores e jornalistas do século XIX, Frederick Douglass nasceu na escravidão, em uma época em que essa instituição já existia nos Estados Unidos há quase duzentos anos. Em sua obra mais conhecida — a autobiografia Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, escrita originalmente em 1845 — o autor ressalta como lutou, desde os primeiros anos de sua vida, pela própria liberdade e pela libertação de seus companheiros.
A verdade é que eu me sentia escravo, e a ideia de me dirigir à gente branca me pesava. Mas, dando início à minha fala, logo senti certo grau de liberdade e disse o que desejava com uma tranquilidade considerável. Daquele momento em diante, tenho me ocupado em defender a causa dos meus irmãos — com que sucesso, e com que devoção, deixo que os familiarizados com meus esforços decidam (Douglass, 2021, p. 148).
Com efeito, com a popularização de sua obra e na condição de ex-escravizado, Douglass lançou-se em uma empreitada jornalística, valendo-se das edições de seu jornal The New National Era (1870–1874) e de seu impacto na formação da opinião pública para erigir uma plataforma política comprometida com a defesa da Reconstrução. Essa plataforma combatia a romantização do mito da causa perdida (Lost Cause) e refletia sobre o lugar dos negros na sociedade estadunidense. Enquanto intelectual orgânico, diferentemente da postura dos intelectuais tradicionais — os quais, ainda que abolicionistas, não reconheciam os negros como iguais — Frederick Douglass rompe com a manutenção do status quo racista ao defender que todo cidadão americano tenha o direito de formar sua própria opinião sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da escravidão.
Rejeito a ideia de que a questão da constitucionalidade, ou da inconstitucionalidade, da escravidão não seja tema apropriado para o povo. Acredito que todo cidadão americano tem o direito de formar uma opinião sobre a constituição e de propagar essa opinião, valendo-se de todos os meios honrados para fazer com que ela prevaleça. Sem esse direito, a liberdade de um cidadão americano seria tão incerta quanto a de um francês (Douglass, 2021, p. 190).
Assim, é na primeira edição de seu novo jornal, The New National Era, publicada em 8 de setembro de 1870, que Douglass ressalta seu compromisso, enquanto editor-chefe e proprietário, de auxiliar seus companheiros recém-emancipados da escravidão após o ciclo reformista com a ratificação da 13ª, 14ª e 15ª emendas constitucionais.
Aos leitores e amigos da Nova Era Nacional: Que ela tenha sua aprovação! Hoje entramos em novas, e eu confio, relações duradouras e mutuamente benéficas. De acordo com os arranjos já feitos — e devidamente anunciados — tornei-me, tanto do ponto de vista pecuniário quanto moral, intimamente e ativamente conectado com a Nova Era Nacional. Como editor-chefe e coproprietário deste periódico, seu caráter e utilidade dependerão em grande parte de meus próprios esforços. O que eu puder fazer para torná-lo uma honra e uma ajuda aos milhões recém-emancipados, cujo órgão ele será, em algum sentido, será feito livre e fielmente (Douglass, 1870, p. 2). [Tradução].
O segundo aspecto pode ser observado na construção do jornal The New National Era enquanto plataforma política ou aparelho privado de hegemonia, desempenhando um papel significativo nas eleições de meio de mandato de 1870. Nesse contexto, os negros concorreram a cargos públicos e exerceram, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, seu direito ao voto após a ratificação da Décima Quinta Emenda Constitucional.
Com sua simpatia, ajuda e cooperação, acredito que a NOVA ERA NACIONAL pode se tornar um jornal como o descrito acima. Mas, sem sua ajuda, o jornal pode perecer como outros pereceram antes, e seu fracasso pode ser citado como outra prova da falta de espírito público, iniciativa e capacidade do homem de cor. Para evitar isso, temos um dever comum, mas diferentes cargos nos cabem. É meu tornar o jornal digno de apoio, e seu dar sua boa vontade e um esforço razoável para estender sua circulação. Confio em você. Não duvide de mim. Que a luz da NOVA ERA NACIONAL brilhe nos cantos mais distantes e sombrios da República. Ela animará e alegrará as massas. Aumentará a autoconfiança, o autorrespeito, a autoajuda, inspirará nossos jovens com ambição viril, elevá-los-á a um nível social mais elevado e conduzirá todo o nosso povo no caminho da civilização (Douglass, 1870, p. 2). [Tradução].
Dessa maneira, Douglass transformava seu periódico em uma espécie de partido, no sentido que Gramsci atribui ao termo: como organizador coletivo, capaz de indicar uma direção política à classe trabalhadora — neste caso, aos egressos da escravidão. Por fim, e não menos importante, ao dirigir, organizar e mobilizar seus companheiros na construção de uma via política signatária da Reconstrução, apoiava as políticas promovidas pelo Partido Republicano e denunciava os atos e medidas do antigo Partido Democrata, que buscavam restaurar a ordem racial anterior à abolição.
Há um fato, sim, há muitos, que o povo desta terra jamais deveria esquecer por um momento. Mas agora enumeraremos apenas alguns. A primeira grande verdade que o povo deve manter sempre em mente é que a democracia de cabeça de cobre da nação começou a última guerra sem a menor causa e com o propósito de estender e tornar perpétua a maldição da escravidão. A segunda verdade que o povo deve sempre lembrar é que, nesta guerra cruel, sem causa e perversa, esses democratas rebeldes massacraram 250 mil homens bravos e leais, mais de 30 mil dos quais eram homens de cor. A próxima verdade é que eles feriram e incapacitaram mais 250 mil homens bravos e leais. A quarta verdade é que eles deixaram um milhão de viúvas e órfãos, muitos dos quais dependem do governo para sustento. A quinta verdade é que esta infame guerra rebelde já custou ao povo quatro bilhões de dólares e custará quase o mesmo em juros antes que a dívida seja extinta. O sexto e mais vergonhoso fato é que esses mesmos democratas rebeldes, que trouxeram toda essa calamidade à nação, estão apelando ao povo que eles tanto traíram para restaurá-los ao poder novamente. Esses conspiradores rebeldes desavergonhados não estão satisfeitos com sua primeira rebelião. Eles não mataram homens leais o suficiente, não fizeram aleijados, viúvas e órfãos, nem custaram ao povo tesouro suficiente. Eles pedem outra chance para cumprir seu propósito e destruir o governo. O povo dará então esta chance? Antes de responderem a esta pergunta, que reflitam calmamente sobre os fatos que declaramos e decidam se os homens que salvaram a União ou os homens que juraram destruí-la controlarão o Governo daqui em diante (Douglass, 1870, p. 2). [Tradução].
Nesse sentido, Frederick Douglass configura-se como um intelectual orgânico por excelência, que se contrapõe aos intelectuais tradicionais ao refletir criticamente sobre o processo de emancipação. À frente de seu jornal, atuava como dirigente, organizador e mobilizador, transformando-o em um centro de articulação e pedagogia política. Por meio dessa plataforma, Douglass elaborava uma concepção de mundo contra-hegemônica, sustentada por um programa de defesa da Reconstrução, dos direitos de cidadania e de políticas efetivas de integração para os afro-americanos egressos da escravidão.
Todavia, isso não significa que a população afro-americana tenha se configurado como objeto passivo das ações de Frederick Douglass enquanto intelectual orgânico. Longe disso, é preciso reconhecer que essa comunidade, marcada por séculos de resistência e luta por emancipação, soube identificar em Douglass — e, sobretudo, nos esforços empreendidos por meio de seu jornal The New National Era e, anteriormente, o abolicionista The North Star[¹] — uma voz legítima e articulada para expressar seus anseios políticos, sociais e culturais. Assim, a atuação de Douglass não se deu de forma isolada ou impositiva, mas em constante diálogo com os movimentos e demandas emergentes da população negra nos Estados Unidos do século XIX. Sua escrita, seus discursos e sua militância foram, em grande medida, moldados pelas experiências coletivas de um povo que se recusava a aceitar a condição de subalternidade. Dessa forma, Douglass não apenas representou os interesses afro-americanos: ele foi também produto e catalisador de uma consciência política em formação, que via na imprensa e na palavra escrita instrumentos de transformação e afirmação identitária.
REFERÊNCIAS
DOUGLASS, Frederick. Autobiografia de um escravo. São Paulo: Vestígio, 2021.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 2, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
MUSSI, Daniela. Antigramscismo na América Latina: circulação e tradução de ideias. Scielo, São Paulo, 2022.
IZECKSOHN, Vitor. Estados Unidos uma história. São Paulo: Contexto, 2021.
VOZA, Pascale. Dicionário Gramsciano. São Paulo: Boitempo, 2017.
[¹] Jornal antiescravista fundado por Frederick Douglass em 3 de dezembro de 1847. O título se referia à estrela que ajudava a guiar aqueles que escapavam da escravidão para o Norte.
New National Era. (Washington, DC) 8 Sep. 1870. Retrieved from the Library of Congress, www.loc.gov/item/sn84026753/1870-09-08-ed-1/.


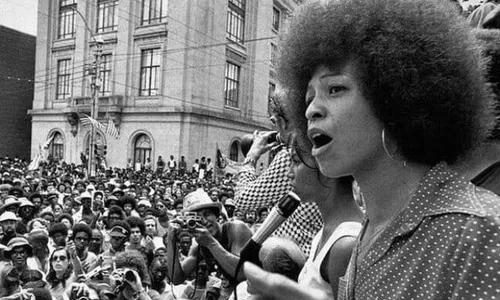
Excelente texto! Esclarecedor, com bastante riqueza de pensamento e muito bem escrito ❤️