Financiamento atrelado a desempenho é armadilha para o aprofundamento das desigualdades
- Ricardo Normanha

- 11 de ago. de 2025
- 6 min de leitura
Por Ricardo Normanha*

Em junho de 2025, o Ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana, anunciou que o ministério está estudando alterar as regras para o repasse do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), atrelando os recursos da União ao desempenho dos Estados e Municípios no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Entre os argumentos apresentados pelo ministro está a necessidade de garantir que o repasse de recursos do fundo se transformem em “resultados”. Em entrevista à Folha de São Paulo, Santana afirmou: “Tenho discutido internamente para que possamos propor uma mudança no Fundeb, para haver uma avaliação de resultado. Hoje, o fundo considera basicamente o número de alunos”. Ao que tudo indica, a proposta de Santana faz parte das medidas que pretendem “sobralizar” a educação brasileira. O atual ministro foi governador do Ceará e deu continuidade ao projeto de “inovação” iniciado no município de Sobral e que foi expandido para todo o estado ao longo de gestões da família Ferreira Gomes (Cid e Ciro). Há muitos elementos que apontam para inúmeras contradições da experiência de Sobral na educação e até para a manipulação dos índices de desenvolvimento da educação. Ao longo desse texto, alguns desses elementos serão apresentados para reforçar o argumento que pretendo desenvolver, qual seja, o de que a medida que o MEC vem estudando em relação ao Fundeb, ao invés de garantir o direito à educação, pode acentuar as desigualdades sociais e educacionais entre estados e municípios, reforçar a ideologia meritocrática e abrir ainda mais as portas para o enraizamento das fundações privadas na governança da educação pública no Brasil.
A proposta de Santana de atrelar o repasse do Fundeb ao desempenho no sistema de avaliação externa de larga escala, como o IDEB, revela-se um mecanismo perverso na medida em que tende a privilegiar estados e municípios que já possuem melhores infraestrutura, salários dos profissionais da educação e recursos financeiros próprios e, consequentemente, melhores desempenhos no Ideb. Já escolas em regiões pobres, com menos infraestrutura e alunos vulnerabilizados pelas condições econômicas e sociais, tendem a ter Ideb mais baixo e, portanto, receberiam menos recursos, perpetuando o ciclo de exclusão.
Os limites das avaliações externas de larga escala
É notável que mesmo setores progressistas do campo da defesa da educação pública, gratuita e de qualidade tenham assumido, nos últimos anos, uma posição de baixa criticidade em relação às avaliações externas de larga escala. Nesse sentido, tem sido comum em nosso campo o uso dos dados do Ideb e de outros sistemas de avaliação, como Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), etc., como um parâmetro válido e suficiente para a medição do desempenho escolar, validando esses instrumentos de avaliação e seus métodos. Isso se torna especialmente preocupante quando pensamos que a discussão crítica sobre esses instrumentos de avaliação externa estão cada vez mais relegados à margem do debate público.
No entanto, é fundamental resgatarmos a crítica radical - no sentido de ir na raiz da questão - dos sistemas de avaliação e os seus usos como instrumentos de controle, pressão e, em última instância, de manutenção das desigualdades.
Reducionismo pedagógico: O estreitamento da educação a números
A obsessão por métricas como o Ideb e o Saeb reduz a educação a um modelo utilitarista, no qual apenas as habilidades em Português e Matemática são valorizadas. Essa lógica ignora dimensões fundamentais da formação humana, como as artes, a cultura e o pensamento crítico. Ao priorizar apenas duas disciplinas, o sistema de avaliação externa empobrece e esvazia os currículos, reduzindo-os ao desenvolvimento de habilidades técnicas, e desvaloriza áreas do conhecimento essenciais para o desenvolvimento integral dos estudantes. Escolas passam a negligenciar atividades criativas, debates políticos e práticas cooperativas, na medida em que elas não "rendem pontos" nos indicadores oficiais. O resultado é uma educação cada vez mais mecânica, utilitária e distante de seu papel transformador.
A pressão por bons resultados no Ideb e no Saeb gera distorções graves no cotidiano escolar. Em detrimento do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, as redes públicas adotam o "ensino para a prova", reduzindo o processo educativo a simulados e técnicas de memorização e de melhorias de desempenho restrito às provas. E as distorções podem ser ainda piores: não é raro ouvir relatos de escolas que adotam práticas anti-pedagógicas para não prejudicar o desempenho da instituição, como hiperestimulação de alunos considerados de “alto nível”, impondo sobre eles uma pressão absurda, ou ainda desincentivando alunos de “baixo desempenho” a realizar as provas. Os professores, por sua vez, são submetidos a cobranças excessivas, sendo responsabilizados individualmente por problemas estruturais, como falta de recursos ou turmas superlotadas. Essa cultura de performance de desempenho passa longe da efetiva melhora da educação. Apenas a transforma em um jogo de números, onde os mais vulneráveis são excluídos.
Desigualdade mascarada como eficiência
A defesa do financiamento atrelado ao desempenho parte de uma premissa falaciosa: a de que as notas no Ideb refletem a "qualidade" da escola. Na realidade, os resultados são profundamente influenciados por fatores internos e externos, como a desvalorização da carreira docentes, a falta de infraestrutura básica nas escolas, a lógica gerencialista que dominou os serviços públicos, o desemprego estrutural e as péssimas condições de trabalho, a violência urbana e do Estado, a falta de transporte escolar, a desnutrição infantil entre outros. Uma escola em um território marcado pela pobreza enfrenta desafios que vão muito além da sala de aula, mas esses elementos são completamente ignorados pelas métricas atuais. Ao premiar apenas quem já tem vantagens, o modelo proposto pelo MEC reforça a ideologia meritocrática, onde as desigualdades estruturais são, ao mesmo tempo, obscurecidas e naturalizadas.
Caminhos (possíveis) para a democratização do acesso à educação pública de qualidade
Se o objetivo é melhorar de fato a qualidade da educação, é preciso adotar políticas que enfrentem as raízes das desigualdades e não as aprofundem. Em vez de vincular recursos a rankings de desempenho, uma abordagem mais justa seria manter o critério atual de repasse com base no número de matrículas, baseado no Custo-Aluno-Qualidade-Inicial (CAQi), complementando-o com um adicional para redes que enfrentam maiores desafios socioeconômicos, como um índice de vulnerabilidade social. Dessa forma, escolas em territórios mais vulnerabilizados poderiam receber um reforço no aporte financeiro, sem serem penalizadas por condições que fogem ao seu controle.
Além disso, em vez de punir escolas com notas baixas cortando verbas, seria mais eficaz investir em apoio técnico, formação docente e infraestrutura adequada, articulando políticas intersetoriais que envolvam saúde, assistência social e transporte escolar. Afinal, uma criança desnutrida ou uma escola sem biblioteca não terá seu problema resolvido com mais provas padronizadas, mas sim com políticas públicas integradas que melhorem suas condições concretas de vida e aprendizagem.
Por fim, é urgente repensar o próprio modelo de avaliação, que hoje se limita a testes que buscam mensurar habilidades de Português e Matemática. Uma alternativa seria desenvolver indicadores qualitativos que considerem a diversidade regional, projetos pedagógicos democráticos e participativos e dimensões formativas que vão além das notas, como desenvolvimento de noções de solidariedade e criticidade, além da participação comunitária e acesso à cultura. Nesse sentido, podemos apontar para perspectivas que fujam da lógica reducionista que transforma a educação em um jogo de números e propor um sentido crítico, democrático e emancipatório.
A proposta do MEC é um equívoco perigoso. Ao atrelar o Fundeb ao desempenho no Ideb, o governo transforma um instrumento de redistribuição em um mecanismo de concentração de recursos, beneficiando quem já está em vantagem e punindo quem mais precisa de apoio. A verdadeira luta por uma educação de qualidade não se faz com rankings e competição, mas com políticas que garantam condições dignas para todas as escolas e estudantes. Em vez de castigar redes que já sofrem com a falta de investimento, é hora de ampliar o financiamento onde ele é mais urgente. Só assim o direito à educação deixará de ser um privilégio para poucos e se tornará, de fato, uma realidade para todos.
* Ricardo Normanha é pai, sociólogo, professor e pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais na Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Diferenciação Sociocultural (GEPEDISC), membro do Comitê São Paulo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Observatório das Tecnologias e Inteligência Artificial na Educação (Edutecia).


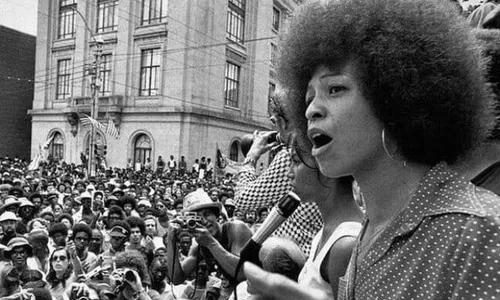
Comentários