Entre a fome e o futuro: o Brasil diante do espelho da insegurança alimentar
- Professor Poiato
- 28 de ago. de 2025
- 4 min de leitura
Por William Poiato
No sertão da Bahia, sob o sol escaldante, Dona Edite segura duas coisas: um cartão do Bolsa Família e um punhado de sementes crioulas. Com o primeiro, compra arroz; com o segundo, sonha com autonomia. Ela sorri, mas seus olhos denunciam um dilema profundo: será que matar a fome de hoje basta para garantir o alimento de amanhã?
Essa cena, concreta e repetida em variações por todo o território nacional, expõe um conflito central de nosso tempo: o embate entre políticas de combate à fome imediata e o imperativo de transformar estruturalmente o modo como produzimos, distribuímos e nos relacionamos com os alimentos.
O Brasil, país de vastas extensões férteis e tecnologias agrícolas avançadas, enfrenta um paradoxo escandaloso: como pode ser, ao mesmo tempo, celeiro do mundo e lar de milhões de famintos? Os dados não mentem: segundo o IBGE, em 2017, cerca de 18% das famílias brasileiras viviam em situação de insegurança alimentar grave. Enquanto isso, apenas 1,5% da área agrícola nacional era destinada à produção orgânica. Como chegamos aqui?
O modelo de combate à fome: alívio ou anestesia?
A resposta passa por entender o papel das políticas sociais compensatórias. O Programa Fome Zero, lançado em 2003, teve êxito imediato ao reduzir a pobreza absoluta e colocar comida na mesa de milhões. No entanto, segundo alguns críticos, esse modelo funcionou como uma “estabilização da reserva de mão de obra” — uma forma de conter os efeitos mais cruéis do capitalismo periférico sem tocar em suas raízes.
Em outras palavras: o combate à fome foi eficiente... até onde não incomodava os alicerces da desigualdade estrutural. A renda foi transferida, mas não a terra. A comida chegou, mas a autonomia não. Foi como oferecer um colete salva-vidas em um barco furado.
Essa crítica ganha força quando observamos o retrocesso orçamentário. Entre 2012 e 2017, os recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — elo entre pequenos produtores e o combate à fome — caíram até 85% em algumas modalidades, tendência mantida até 2025. O colapso não foi apenas econômico; foi simbólico: aquilo que parecia ser o embrião de uma política agroalimentar integrada foi desidratado.
Sementes de um outro mundo
Apesar de metas ambiciosas — acabar com a fome, promover a diversidade alimentar, ampliar práticas sustentáveis —, os indicadores revelam um país que caminha com passos tímidos em terreno minado. Em 2006, o Censo Agropecuário registrava pouco mais de 8 milhões de hectares em sistemas agroflorestais, número insignificante diante do avanço do agronegócio monocultor e exportador.
Se essa realidade fosse um mapa, ela desenharia um território fragmentado: políticas públicas promissoras aqui, retração de investimentos ali; produção diversificada acolá, desnutrição infantil agravada além. O resultado não é um projeto coerente, mas um quebra-cabeça cujas peças não se encaixam.
Alívio imediato ou transformação estrutural?
A fome é mais que biológica; é política. Mas há divergências sobre o caminho. Podemos focar na engenharia institucional e na eficiência programática ou, por outro lado, mirar na lógica do capital e nos limites intrínsecos das soluções oferecidas dentro dele.
Enquanto uma abordagem vê o problema como déficit de políticas, a outra o enxerga como funcionamento comum do capitalismo. Uma sugere mais Estado; a outra, uma nova sociedade. Mas será que essas leituras são mutuamente excludentes? Ou será que precisamos das duas: do Estado para salvar vidas agora e da crítica estrutural para que as próximas gerações não precisem ser salvas?
O campo de batalha: quem alimenta o Brasil?
No centro dessa encruzilhada está um ator negligenciado: a agricultura familiar. É ela quem garante 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. No entanto, como mostram os dados do Ipea, recebe menos de 30% do crédito agrícola. Aqui, o paradoxo se encarna: quem alimenta é quem mais sofre com a insegurança alimentar.
Esse dado não é técnico; é um grito. Se quisermos uma solução real para a fome, ela não virá apenas por vias emergenciais. Será preciso redistribuir poder, terra, água e saberes. Será preciso reconhecer que, no Brasil, fome e latifúndio são partes de uma mesma equação.
E se a resposta estiver fora do prato?
O debate sobre a fome não pode se encerrar em calorias ou nutrientes. É preciso perguntar: quem decide o que comemos? Quem lucra com nossa desnutrição? Por que aceitamos que um país campeão em exportações agrícolas tenha crianças com déficit de crescimento?
No fim, talvez Dona Edite esteja certa ao preservar suas sementes. Elas não alimentam apenas o estômago, mas uma utopia: a de que o Brasil possa, um dia, plantar soberania, colher justiça e se alimentar de dignidade.
Epílogo: uma provocação final
Se o século XXI for mesmo o século das crises — climática, hídrica, alimentar — talvez devêssemos parar de pensar em soluções e começar a ouvir as perguntas. Eis uma: o que aconteceria se as políticas públicas fossem feitas não para controlar os pobres, mas para eles? Talvez então, e só então, a fome deixasse de ser uma tragédia anunciada e se tornasse uma memória superada.
Referências:
COGGIOLA, Osvaldo. Fome, capitalismo, e programas sociais compensatórios. São Paulo, 2010.
VALADARES, Alexandre Arbex; ALVES, Fábio. Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 2019.


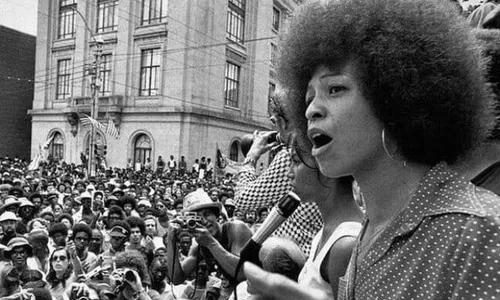

Comentários