A soberania é uma ficção jurídica? Os povos tradicionais abrem os nossos olhos
- Professor Poiato
- 15 de set. de 2025
- 4 min de leitura
Por William Poiato*
Os EUA taxam o Brasil; a UE avança em acordo com o Mercosul; o país abre 33 novos mercados e bate recorde de exportações; juízes têm contas bancárias canceladas por força estrangeira; terras raras não exploradas entram no balaio — e nós gritamos soberania. Mas qual soberania?
A soberania, tal como concebida no Estado moderno, não passa de uma abstração que encobre a dominação material. É o que revela a análise de Marx na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (1843): o Estado político é uma esfera alienada, separada da vida concreta da sociedade civil. Enquanto isso, nos territórios tradicionais, a soberania é vivida como autodeterminação real — mas é sistematicamente negada pelo avanço do capital. É nesta contradição que a soberania se constrói, negando-se a si mesma.
A soberania alienada e a sociedade civil
Para Marx, o Estado moderno inverte a realidade: trata a ideia abstrata de Estado como sujeito e a sociedade civil — com suas relações materiais, conflitos e necessidades — como mero predicado. A soberania estatal, nesse modelo, é uma ficção que esconde o verdadeiro poder: o da propriedade privada e da dominação de classe. Como poderíamos resumir com Marx: “Para se comportar como cidadão real do Estado, o indivíduo deve abandonar sua realidade social, refugiar-se em sua individualidade nua e crua.”
Isso significa que a cidadania formal não garante autodeterminação, mas exige a negação da vida concreta. A verdadeira soberania, para Marx, só se realizaria na “verdadeira democracia”: a dissolução do Estado como esfera separada e a apropriação direta do político pela sociedade civil, através do sufrágio universal e da autogestão.
A soberania real dos territórios tradicionais
Enquanto o Estado opera na abstração, os povos tradicionais constroem soberanias concretas. Por exemplo, para os Guarani-Kaiowá, o tekoha (território tradicional) é o espaço onde a soberania é exercida através de rituais, assembleias (Aty Guasu) e práticas coletivas de cuidado. A preocupação (jeike jey) com os territórios é um ato de soberania real — além de uma reconexão com os antepassados e com a ordem cósmica própria daquela cultura.
Da mesma forma, no Cerrado e na Amazônia, comunidades camponesas e extrativistas praticam formas de soberania baseadas nos comuns: a gestão coletiva da água, das florestas e dos saberes. Por outro lado, o agronegócio não apenas contamina o ambiente, mas destrói essas soberanias locais, convertendo territórios em “zonas de sacrifício”.
A fronteira como mecanismo de espoliação
Se olharmos para Rondônia, vemos como a “fronteira” não é uma linha geográfica, mas um processo de expansão do capital que avança sobre territórios tradicionais. A grilagem, a pecuária extensiva e a extração ilegal de madeira são armas de uma (necro)política que decide quem vive e quem morre. O Estado, longe de ser neutro, age como facilitador dessa espoliação por meio de políticas de “desenvolvimento” que privilegiam o agronegócio e a mineração.

O território é formado, conformado, deformado e abandonado em troca de uma produção voltada para fora. Destroem-se tanto a soberania formal quanto a soberania real do território, entregando seu fruto de trabalho ao comprador externo.
O novo desenvolvimentismo e a resistência
O modelo neoextrativista — sob o discurso do “progresso” — acelera a violação dos territórios tradicionais. Grandes projetos como hidrelétricas e minerodutos são impostos sem consulta livre e informada, aprofundando a alienação política denunciada por Marx.
A resistência, nesse contexto, assume formas plurais: desde as retomadas Guarani-Kaiowá até as mobilizações das mulheres camponesas no Tocantins. Nas ciências humanas, a antropologia pública tem sido crucial para documentar essas lutas e pressionar por políticas que reconheçam a autodeterminação dos povos.
Por um Estado plurinacional: a solução dialética
Se a soberania estatal é alienante e a soberania dos povos é negada, a solução dialética não é a reforma do Estado, mas sua superação por meio de um projeto plurinacional. Isso significa:
Reconhecer a soberania múltipla dos territórios tradicionais como entidades políticas autônomas.
Descentralizar o poder até que o Estado, como esfera separada, se dissolva na autogestão social.
Garantir o sufrágio universal não apenas como voto, mas como participação direta nas decisões que afetam os territórios.
Subordinar o econômico ao político — invertendo a lógica capitalista que subordina a vida ao lucro.
Como Marx já antevia, a verdadeira democracia só existirá quando a sociedade civil — em toda a sua diversidade — for o sujeito real da política. Um Estado plurinacional não é um fim em si mesmo, mas um passo nessa direção: o reconhecimento de que a soberania não pode ser única, mas deve ser partilhada entre muitos povos, muitas vocações, muitos mundos.
Referências
BENITES, Tonico. Recuperação dos territórios tradicionais guarani-kaiowá. Crónica das táticas e estratégias. Journal de la Société des Américanistes, v. 100, n. 100-2, p. 229-240, 2014.
DA COSTA SILVA, Ricardo Gilson et al. Fronteira, direitos humanos e territórios tradicionais em Rondônia (Amazônia Brasileira). Revista de Geografía Norte Grande, n. 77, p. 253-271, 2020.
DE DEUS, Leonardo Gomes. Soberania popular e sufrágio universal: o pensamento político de Marx na Crítica 43. 2001


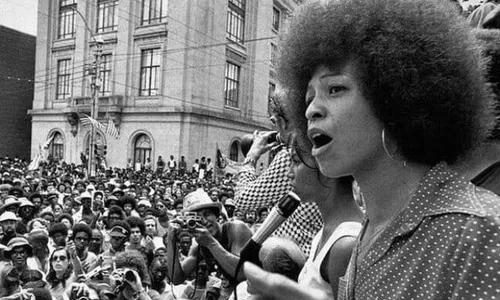

Comentários